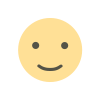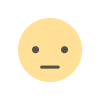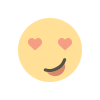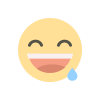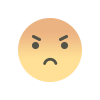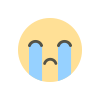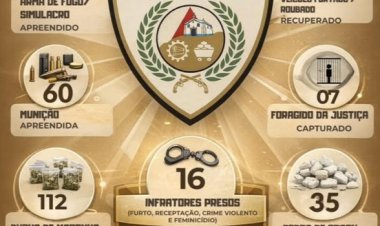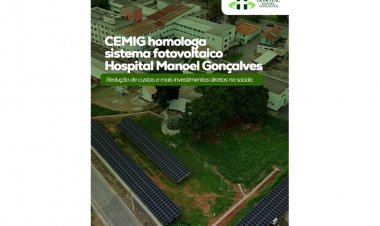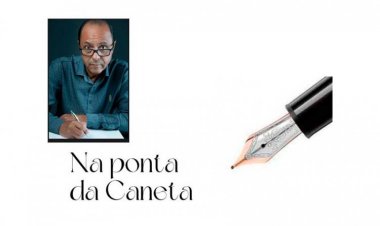O dia seguinte de uma grande obra

Grandes obras não terminam com o último tijolo assentado. Algumas, como a Barragem do Benfica, continuam em construção mesmo depois de prontas — reconstruídas nos olhares, nos boatos, nas dúvidas e nas vigilâncias que o tempo impõe. Este sexto capítulo resgata justamente esse dia seguinte: o momento em que a cidade precisou administrar, não mais o risco das cheias, mas o medo das rachaduras. Mais uma vez, emergindo dos registros profundos do historiador Guaracy de Castro Nogueira — meu avô e referência maior nessa travessia — reorganizo estes dados em palavras que buscam honrar o rigor da memória com a sensibilidade da verdade.
Quando as comportas se fecharam e as águas começaram a se reter, a população itaunense reagiu entre dois extremos: a esperança confiada de que nunca mais haveria enchentes, e o temor sussurrado de que o paredão ruiria a qualquer instante. A barragem estava lá — sólida, imensa, impávida — mas em torno dela cresciam histórias que ameaçavam a tranquilidade com o mesmo ímpeto das águas que ela continha.
Havia quem dissesse que trincas percorriam o concreto. Outros juravam que se podia enfiar a mão em certas juntas do paredão. Houve até quem interpretasse manchas brancas na estrutura como sinais de vazamento irreversível. Em meio à inquietação, chegaram a telefonar para o então bispo de Divinópolis, Dom Cristiano Araújo Pena, pedindo que avaliasse “o grau de periculosidade da obra”. O temor, embora muitas vezes desinformado, era sincero — nascia da consciência coletiva de que se tratava de uma construção colossal, vital demais para se aceitar qualquer dúvida com descaso.
Os engenheiros da época reagiram. O nome de Arnaldo Mattos de Lima emerge nesse período como sinônimo de responsabilidade técnica. Aos 27 anos, recém-formado, assumiu as rédeas do Departamento de Eletricidade e passou a acompanhar, dia após dia, os pontos de tensão da barragem. Foi sob sua supervisão que se contratou, em 1962, a Geotécnica S.A., que iniciou os reparos com brocas diamantadas, cimento especial e injeções profundas para conter infiltrações e dissipar boatos. Trabalhavam sob pressão — literal e simbólica.
O episódio dos “vazamentos” se transformou em crônica urbana. A Geotécnica injetava 600 a 800 sacos de cimento por furo, com pressão de até 22 atmosferas, tentando selar qualquer poro, qualquer rumor. Em um dos trechos mais dramáticos, um operário abandonou o serviço dizendo que a cidade seria varrida pela força das águas. A informação se espalhou. E a resposta foi técnica, mas também emocional: investigar, registrar, explicar.
Dr. Osmário, sempre vigilante, recorreu a professores da Escola de Engenharia da UFMG, consultou especialistas como César Gonçalves de Souza e redigiu pareceres. Identificaram que as supostas “trincas” eram, na verdade, juntas de dilatação mal compreendidas. E que as “manchas” brancas deviam-se à precipitação de carbonato de cálcio — um fenômeno químico, e não um prenúncio trágico. Foi nessa hora que a ciência entrou em cena para vencer o pânico.
Esse foi o dia seguinte da barragem: uma travessia entre o que se constrói com concreto e o que se sustenta com confiança. Uma obra pública, mesmo grandiosa, não se conclui na inauguração. Ela precisa continuar sendo explicada, cuidada, compreendida. Porque o que está em jogo não é só a engenharia — é o pacto de segurança entre o povo e seus próprios sonhos.
Assim, Itaúna atravessou também essa fase: entre o medo e a maturidade. Entre os burburinhos e a técnica. Entre o imaginário coletivo e os dados técnicos, construindo, dia após dia, a solidez que não se mede só pela espessura do concreto, mas pela espessura da verdade.