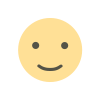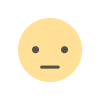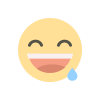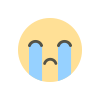A estranha maneira como Deus conduz as coisas

Quando o bebê parou de sugar, Alice o afastou do seio com cuidado e o colocou de volta no colchão. Olhou para os mamilos vermelhos e doloridos antes de levantar as alças da blusa e, depois, para a criança que dormia tranquila.
No pequeno barraco, a chuva fina e sem fim, que caía havia vários dias, encharcava a cidade e atravessava as frestas da madeira, empurrada por um vento fraco que balançava a única lâmpada, presa, por um fio, a um prego no teto.
Ela ficou parada, assistindo a dança das sombras projetadas nas paredes e no chão. Fazia um mês que o companheiro não aparecia em casa. Ele trabalhava na construção da ponte Rio-Niterói e, devido à distância, ausentava-se por alguns dias. No entanto, desta vez estava ausente há muito tempo. Estava preocupada, pois, naquela época, era comum que pessoas desaparecessem devido à ditadura. Sabia que seu parceiro era corajoso e estava envolvido em questões políticas; por isso não recusou o convite quando ele lhe pediu que fosse com ele ao Rio de Janeiro, a fim de deixar a prostituição. Temia que ele a abandonasse, uma vez que o filho não era dele.
Os pensamentos de Alice giravam como um brinquedo de parque de diversões. Observava o menino e desejava que ele tivesse permanecido para sempre dentro da sua barriga. Ao mesmo tempo, procurava um nome de pessoa famosa para o bebê. As fraldas sujas lhe provocavam náuseas; o corpo delicado daquela criança lhe causava medo. O sorriso do pequeno arrancava-lhe outro sorriso; e quase sempre deslizava com carinho a mão pela pele fina, já conhecendo cada traço daquele rosto.
O choro do filho a despertou, e ela o trouxe ao colo para fazê-lo dormir novamente. Enquanto o embalava, lembrou-se da cafetina, que dizia que o menino precisava ser batizado para ficar mais tranquilo. Ao recordar isso, odiou as palavras do padre, que se recusara a batizá-lo na cidadezinha do interior onde morava:
— Não batizamos mulheres solteiras e, muito menos, as da zona boêmia.
Num emaranhado de sentimentos que não sabia como transformar em gestos ou palavras, Alice sentia uma dor interior que não conseguia compreender. A vida lhe deixava marcas, e cada dia e cada noite se tornavam sufocantes.
Ela caminhou até a porta de compensado, com a criança no colo, ao perceber que a enxurrada invadia a sua morada.
A encosta desabou num estrondo de trovão.
No intervalo de segundos entre o estrondo e a avalanche, Alice abraçou o filho num gesto instintivo. Caídos na lama, a mãe viu a cachoeira de água, terra e lixo arrastá-los juntamente com os pedaços de madeira do barraco.
O silêncio dominou a noite por longos minutos, seguido por uma agitação que misturava gritos e correria. A chuva forte varreu tudo. Em meio ao tumulto, mãe e filho permaneceram imóveis até a chuva parar e o dia amanhecer.
Então, Alice levantou-se com dificuldade. Nos braços trazia o filho imóvel. Limpou o rostinho enlameado e buscou nele um sopro de vida. Olhou ao redor, desnorteada, em busca de ajuda. Ninguém. No horizonte, o sol nascia deslumbrante sobre o mar. Ao olhar novamente para o menino, viu que outra vez começava a chorar. Alice riu entre lágrimas, abraçou-o e deixou o pranto sair. Beijou-lhe a testa e o segurou firme, como se ali coubesse todo o seu mundo.
* Toni Ramos Gonçalves (Não é o Global) Professor, Historiador, Escritor, Editor, ex-presidente e um dos fundadores da
Academia Itaunense de Letras - AILE.