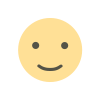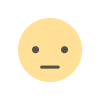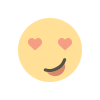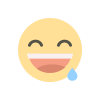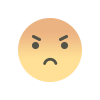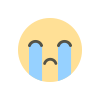Testamento de Pedra e Silêncio

Quando Manoel Gonçalves de Sousa Moreira lançou a pedra fundamental do hospital que levaria seu nome, em 7 de junho de 1916, não fincou apenas um marco físico. Fincou um gesto — desses que atravessam o concreto e assentam raízes no invisível. Com o nome grafado nas atas e a vontade estampada no testamento, Manoelzinho não fundou o hospital como quem inaugura uma obra: ele o deixou surgir como consequência inevitável de um modo de existir. Era como se sua biografia não coubesse em memórias familiares — precisasse, também, ser escrita em pedra pública, a serviço de todos.
Ao reler as páginas do testamento — e faço isso guiado pela pesquisa sempre rigorosa de Guaracy de Castro Nogueira — é impossível não se comover com o nível de detalhe, previsibilidade e zelo com que tudo foi articulado. Nada ficou entregue ao acaso. Ali se listam não apenas terras e títulos. O testamento, mais do que documento patrimonial, parecia um roteiro de continuidade ética. Em vez de dividir bens, articulava propósitos. Era o registro de uma consciência que sabia que a morte não basta para encerrar uma responsabilidade.
É fundamental termos uma ideia palpável do que estamos tratando. O patrimônio deixado para a fundação da Casa de Caridade somava, à época, em 1916, quase oitocentos contos de réis. Considerando o lastro em ouro daquele momento, isso equivale hoje a cerca de R$ 757 milhões de reais. Um mil-réis correspondia a aproximadamente 1,626g de ouro em 1916, e o valor atual do grama de ouro gira em torno de R$ 581. Um valor robusto, suficiente para estabelecer uma estrutura sólida de atendimento. Mas, mais valiosa do que a cifra, era a forma como ela foi repartida: Manoelzinho deixou, sim, recursos à esposa, aos irmãos, aos sobrinhos — mas foi à Casa de Caridade que destinou o centro de sua intenção. Declarou, de próprio punho, que a instituição deveria se chamar “Casa de Caridade Manoel Gonçalves de Sousa Moreira” e que suas ações da Companhia Tecidos Santanense deveriam ser aplicadas na sua manutenção permanente. Mais que deixar recursos, Manoelzinho deixou rumo. O gesto não terminava nos números: apontava uma direção silenciosa, como quem acende uma vela sem dizer para onde deve iluminar.
Doar, para Manoelzinho, nunca foi moeda de troca nem ato em busca de espelho. Como anotou o poeta alagoano Jorge de Lima, “cada gesto humano é sombra de gesto eterno” — exato lugar onde essa ação caridosa encontra morada. Não redigiu cláusulas para ser lembrado, mas para que o que fosse feito depois dele ainda carregasse o que nele havia de anterior ao tempo. Khalil Gibran, em sua prosa luminosa, também nos ajuda a emoldurar essa saga abençoada quando aponta que “as árvores do pomar não dizem: ‘só dou a quem merece’” — Manoelzinho, disso, compreendeu mais do que todos. Não doou para sustentar um prédio, mas para sustentar o invisível: o fio de continuidade entre o que se faz em silêncio e o que um dia, sem alarde, salvará uma vida. Seu gesto não se exibe — ele se infiltra. Como as raízes que, sem chamar a atenção, sustentam a árvore inteira.
A cerimônia de bênção da obra, celebrada em 14 de novembro de 1919 pelo arcebispo Dom Silvério Gomes Pimenta, encerrou um ciclo que havia começado três anos e cinco meses antes. Na ocasião, o prédio já se erguia imponente, às margens do São João, com salões amplos, capela, câmara cirúrgica, lavanderia, consultórios e um conjunto de alas que, para a época, rivalizava com as melhores casas de saúde da província. O que mais impressionava, contudo, não era a arquitetura: era o espírito do lugar. Desde o início, o hospital parecia conter mais que paredes: havia nele um sopro de presença, como se a planta baixa abrigasse também um princípio alto.
Essa alma, diga-se, não partiu com Manoelzinho. Ficou. Permaneceu nas doações, nas atas, nos relatos, nos inventários. Ficou na voz dos enfermeiros, nos bilhetes manuscritos com letras trêmulas, nas cadernetas onde se anotava o nome dos internados e o dia da alta. Ficou, sobretudo, na cláusula derradeira do testamento, onde o fundador declara que não queria apenas deixar uma obra — queria que ela servisse “com perpetuidade, função e decência”.
É curioso — e simbólico — notar que a Casa de Caridade foi construída exatamente sobre o terreno que ele mesmo destinou para ser sepultado. Como se o corpo físico descansasse na raiz daquilo que em vida ele havia nutrido. E como se a morte, para ele, não fosse fim, mas alicerce.
Como quem retorna ao alicerce e encontra nele um novo horizonte, é tempo de relembrar que o hospital não foi apenas erguido — foi confiado à eternidade. É a história de uma Casa que nasceu com nome, com causa e com alma. Um lugar que, antes de ser instrumento médico, foi gesto civilizatório. E que permanece, ainda hoje, como pedra que não cedeu à erosão do tempo — porque não foi lançada para o chão, mas para a eternidade.