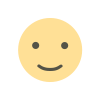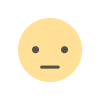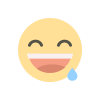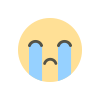A Autonomia do Político e o Equívoco de Toinzinho e Gustavo Dornas

Esta semana, na sessão sobre abrir a comissão processante contra o vice-prefeito, o espetáculo foi didático. O presidente da Câmara, Toinzinho, e o presidente da própria comissão, Gustavo Dornas, demonstraram, com uma eloquência comovente (contém ironia), como é possível invocar a Constituição para não dizer nada.
Sobrou invocação mecânica do “devido processo legal” como se o processo político devesse imitar o rito do poder judiciário. A ideia é nobre, mas mal aplicada. Ela parte do desejo de conferir segurança jurídica aos atos da casa legislativa, mas termina por desconsiderar que o processo político tem legitimidade própria e não se submete à lógica do juiz. O equívoco nasce quando se confunde o dever de legalidade com o dever de judicialização.
Não estou discutindo neste artigo o mérito do assunto que os dois vereadores presidiram na Câmara nesta semana. Importante ler esta frase de novo. Leu de novo?
A palavra “política” assustava mais que trovão em dia de chuva. Ambos falavam como se o plenário fosse um tribunal de justiça e eles, juízes relutantes. Falavam com medo, o medo de quem não entendeu o papel que o povo lhes deu. Porque ser vereador é ser político. E ser político, dentro da lei, (grife-se “dentro da lei”) é chamar a responsabilidade para aquilo que faz no plenário. Não é citar o artigo. É exercer o mandato. Ao político é dado do direito de levar em conta a sensibilidade que suas articulações e votos carregam dentro do interesse público que o silêncio das urnas o ofereceu. Ele possui um tipo legitimidade que juízes não possuem. E por isso não podem escondê-la atrás de argumento judicial.
Toinzinho e Gustavo Dornas pareciam dois seminaristas ansiosos para mostrar que sabem latim, recitando palavras que aprenderam na véspera, sem entender bem o sentido.
O primeiro a nos alertar para a diferença entre o jurídico e o político foi Carl Schmitt, em sua Teoria da Constituição. Para ele, o Estado não é apenas uma ordem normativa, é também uma decisão concreta. A essência do político está na capacidade de decidir, não apenas de aplicar. Quando uma comissão é instaurada, quando um parlamento delibera, está em curso uma decisão política dentro de uma moldura jurídica, não uma sentença judicial. A legitimidade do ato reside no espaço da soberania popular representada, e não na similitude com o processo judicial.
Hans Kelsen, na Essência e Valor da Democracia, reforça que o Parlamento é arena de criação política, não de subsunção jurídica. A legalidade, aqui, é o limite, não o método.
José Afonso da Silva, ao tratar da responsabilidade política, explica que “o processo político de responsabilidade não é processo judicial, mas político-jurídico”. Alexandre de Moraes recorda que o Legislativo exerce função típica de controle político, e Celso Bastos reforça que o devido processo legal no âmbito parlamentar é formal, não material. Isso significa que uma comissão parlamentar de inquérito, por exemplo, deve respeitar a forma legal de sua criação e funcionamento, mas o conteúdo de suas conclusões é essencialmente político. O JUÍZO É DE CONVENIÊNCIA, NÃO DE CULPA.
O equívoco em tratar o político como se fosse judicial surge, em parte, do empobrecimento conceitual do próprio vocabulário republicano. Hannah Arendt, em A Condição Humana, mostra que o agir político é a forma mais elevada da liberdade humana. Não há política onde há mera aplicação de regra, porque o político nasce da pluralidade e da capacidade de julgar o que lhe parece conveniente ou oportuno.
Giovanni Sartori, em sua Teoria da Democracia, define o parlamento como arena de representação e decisão, não como tribunal. Ele explica que a política é o exercício da escolha, e que a racionalidade política não se mede pela coerência normativa, mas pela adequação das decisões aos fins coletivos.
No Brasil, essa compreensão foi acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Desde o julgamento do Mandado de Segurança nº 21.564, durante o impeachment do presidente Fernando Collor, o Tribunal reconheceu que o processo de responsabilidade política é político-jurídico. Cabe ao Judiciário apenas zelar pela observância dos ritos legais, nunca intervir no mérito das decisões políticas. O controle judicial, portanto, é de forma e não de conteúdo da decisão que vier dos vereadores ou dos deputados.
O processo político, quando respeita a lei, é a própria voz dos votos. Mais do que dos nomes dos políticos acusados e acusadores. O processo judicial, quando respeita a política, é o Direito lembrando que não nasceu para servir de muleta a político perdido. Um existe para decidir; o outro, para limitar. Quando confundem os dois, o resultado é previsível: um poder manco, o outro arrogante, e ambos de joelhos diante da ignorância. O tal “devido processo legal”, esse mantra usado como falatório na sessão desta semana, foi criado para garantir a legalidade, não para ser muleta de político perdido no ofício.
Por Rafael Corradi Nogueira