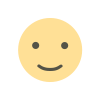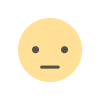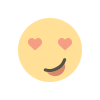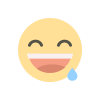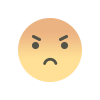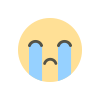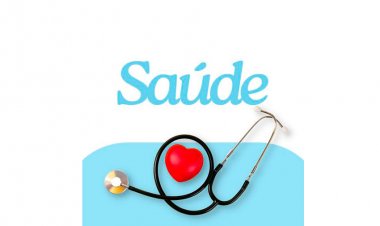Sargento-mor Gabriel, Manoel Pinto e a Capela para Senhora Sant’Ana

Nesta semana, temos Congado. Nada mais oportuno do que falarmos sobre a relação da religiosidade histórica de Itaúna e a fundação do município. A pesquisa documental de Guaracy de Castro Nogueira revela que, em visita que ele fez a Mariana, para pesquisar, em 1984, o arcebispo Dom Oscar de Oliveira confirmou a existência de uma necessidade de provisão episcopal para a obra de construção da capela de Santa’Ana. Dr. Guaracy não foi apenas um leitor ávido de documentos originais. Ele buscou incansavelmente os relatos presenciais em fontes institucionais. O historiador reproduz em cópia fiel o que descobriu. O texto explicita o local, o objetivo e as condições da obra, e registra a data de 9 de dezembro de 1750 como marco inicial de petição liderada por Manoel Pinto de Madureira e endereçada à Arquidiocese. A criação da capela, além de cumprir função religiosa, servia como símbolo de coesão social e de afirmação comunitária.
Esta parte da história começa quando o sargento-mor Gabriel da Silva Pereira chega à região entre Bonfim e Pitangui, na passagem do São João, pertencente à freguesia de Cachoeira do Campo, no início do século XVIII. Homem de autoridade, astuto no comando e possuidor de quarenta escravos, firmou-se como figura de liderança. Ao seu lado, outros portugueses chegavam com o mesmo ímpeto de conquista, dispostos a enfrentar as dificuldades da terra e a buscar riquezas. Entre eles estavam Tomás Teixeira e seu genro Manoel Pinto de Madureira, envolvidos em arranjos familiares e transações que incluíam terras, escravos e pecúlios variados.
Os filhos de Gabriel e de Tomás, muitos deles frutos de uniões marcadas por estratégias patrimoniais, integravam uma rede de relações que moldaria o perfil social da comunidade. Ali estavam nomes como João Teixeira e Genoveva de Jesus, casada com João Bernardo de Figueiredo. Essas alianças não se limitavam ao casamento, mas frequentemente incluíam disputas e negociações envolvendo terras e direitos. Em 1753, por exemplo, Gabriel teve de lidar com a devolução de propriedades às margens do Paraíba, cedidas sob condições que mais tarde seriam contestadas. Manoel Pinto e seu filho, Manoel Pinto de Madureira Moço, também participaram de atos de posse e contratos no mesmo período, consolidando-se como parte da elite local.
A posse de sesmarias era um elemento central na dinâmica de poder. Entre 1741 e 1769, Gabriel e seus aliados obtiveram diversas concessões de terra, sempre relacionadas a sua influência e capacidade de mobilizar recursos. O registro de 22 de março de 1769, que descreve Lourenço Correia dos Santos morando “na paragem chamada Passatempo junto à Capela para Senhora Sant’Ana”, é exemplo da centralidade dessas doações na fixação da população e na formação do núcleo inicial que mais tarde se tornaria Itaúna.
Esta construção da capela de Sant’Ana é um capítulo revelador. Foi em emblemático o momento em que Manoel Pinto de Madureira liderou o abaixo-assinado solicitando a provisão episcopal para a obra. O documento, datado de 18 de dezembro de 1753, relata a intenção de erigir um oratório dedicado à Senhora Sant’Ana, em terreno da passagem do São João. A autorização era necessária porque a área não pertencia à recém-criada diocese de Mariana, mas estava sob jurisdição eclesiástica anterior, herdada das dioceses da Bahia e de Pernambuco. A concessão foi assinada por moradores influentes e testemunhas de prestígio, incluindo o sargento-mor Gabriel, Tomás Teixeira, Manoel Neto de Melo e Lourenço Correia dos Santos.
O episódio de Sant’Ana, com seu oratório provisório erguido à beira do caminho, guarda um valor simbólico que ultrapassa a função litúrgica. Representa o momento em que a comunidade, organizada em torno de seus líderes e estruturada por laços de compadrio e conveniência, escolheu fixar um ponto de fé como marco físico de sua permanência. É como se naquele altar inicial, feito de paredes modestas e devoção firme, estivesse condensada a própria decisão de existir como povoado. Ali se reuniam os que carregavam o peso das concessões de terra, os que assinavam contratos e disputavam glebas, os que uniam famílias pelo interesse e pela herança. A história da capela e das pessoas que a tornaram possível é, ao mesmo tempo, um registro da fé e da pragmática habilidade de quem sabia que, para firmar raízes, era preciso erguer também símbolos duradouros.
Entre a dura realidade das sesmarias e a doçura de um sino que chamava para as orações, a região deu um passo decisivo. A lembrança desse ato inicial permanece como uma pedra angular, guardando na memória o instante em que devoção e estratégia se encontraram, e o povoado começou a escrever sua história com um conceito que o tempo não apagou: a Fé uniu e consolidou as espaças ilhas de povoamento inicial do interior de Minas Gerais. Entender isso é uma chave importante para, quem sabe, transpor as espaças ilhas de convivência polarizada da mineiridade de 2025. Cerca de três séculos depois.